País conseguiu frear a hiperinflação e estabilizar os preços, mas em troca viu crescerem os índices de desemprego e aumentar a pobreza

LA MATANZA, Argentina – As mãos de Noelia Prejzentane não param de tecer os fios de lã, enquanto ela desfia o curto novelo de sua história. Aos 18 anos, Noelia terminou o Colegial, mas não consegue emprego nem tem dinheiro para fazer a faculdade de Nutrição. Chegou a trabalhar três meses numa lanchonete, pelo salário mínimo de US$ 380, mas, ao final do contrato temporário, foi dispensada.
Nas manhãs frias de inverno, ela estende os gorros de tricô na calçada e senta-se num banco da praça central de La Matanza, município ao norte de Buenos Aires, e espera os raros fregueses. Cada novelo custa US$ 2 e dá para fazer dois gorros. Ela leva duas horas para fazer um gorro, que vende por US$ 3. Mas são 15h e ainda não vendeu nenhum. “A situação do país é um lixo”, resume Noelia. “Não há trabalho em nenhuma parte, e é preciso sair à rua atrás de dinheiro.”
Conglomerado industrial situado na Grande Buenos Aires, La Matanza – cujo nome se refere a um massacre de índios em 1536 – é o equivalente argentino do ABC paulista e um símbolo da crise do país. O desemprego ultrapassa os 20% no município de 1,2 milhão de habitantes, quando no país alcança 16%.
Aqui, a desindustrialização é visível, nas fábricas e galpões fechados.
José Salvador diz que as vendas em sua loja de tornos, prensas e outros maquinários caíram mais de 60% nos últimos três anos. “A indústria metalúrgica se destruiu”, atenta. “A indústria têxtil morreu”, completa Eduardo Fernández, representante comercial de roupas de cama, mesa e banho, cujas vendas diminuíram 40% no mesmo período.
“Aqui, trabalha-se para comer e tentar pagar os serviços”, descreve o vendedor, que ganha cerca de US$ 2 mil por mês – um salário considerado de médio para bom. “Lá pelo dia 20, o dinheiro acaba e temos de pagar o supermercado com cartão de crédito.”
Em média, os preços na Grande Buenos Aires são nominalmente os mesmos que em São Paulo. Se um litro de leite em São Paulo custa R$ 0,80, em Buenos Aires, sai por US$ 0,80. Ou seja, fazendo o câmbio, a Argentina é duas vezes e meia mais cara que o Brasil.
O suboficial Raúl, que não quer dar seu sobrenome, conta que, depois de 27 anos na polícia, recebe US$ 850. Com horas extras, seu salário chega a US$ 1.000. “Não dá para sustentar uma família”, diz o policial, que faz bicos como segurança particular para complementar a renda.
Depois de uma inflação que chegou a 4.927% em 1989, os argentinos consideram a estabilidade dos preços uma conquista extraordinária. Mas os preços se estabilizaram num patamar alto demais e, com três anos de recessão, seu custo começa a parecer intolerável. Em 1999, o Produto Interno Bruto encolheu 3,4%; no ano passado, 0,5%; no primeiro trime++stre deste ano, outros 2,1%. Houve deflação de 1,8% em 1999 e de 0,79% em 2000.
Descrédito – Para não demitir ou fechar as portas, as empresas firmam acordos coletivos com os empregados para reduzir os salários. A flexível legislação trabalhista, desenhada justamente para conter o desemprego, permite contratos temporários de três meses com dispensa sem indenização, e na prática levou a mais demissões do que contratações.
“A situação é desastrosa”, diz Paula Núñez, de 29 anos. Seu último emprego, que também durou apenas três meses, foi numa prestadora de serviços terceirizados de limpeza, por US$ 280 ao mês. Em La Matanza, o aluguel mais barato para um casal não sai por menos de US$ 250. Um apartamento de dois dormitórios está na faixa de US$ 400.
“Não se vê muito futuro”, continua Paula, sentada na praça ao lado do marido, o entregador Oscar González. “Havia melhorado com o fim da inflação, mas agora está piorando tudo, e o mais triste é que não dá para acreditar em ninguém.” Com o ex-presidente Carlos Menem detido por envolvimento em tráfico de armamentos, ao lado de militares e integrantes de seu entorno, talvez essa seja a única coisa mais perturbadora para os argentinos do que a crise econômica: o descrédito na classe política e nas instituições.
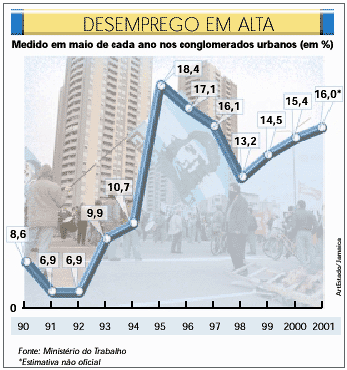
“Os argentinos estão céticos”, atesta o consultor Manuel Mora y Araujo. “Nossas pesquisas mostram que, ao lado do pessimismo, que pode ser mais circunstancial, vinculado à crise econômica, há uma auto-estima baixa, que é um sentimento mais profundo”, explica o presidente do instituto Ipsos-Mora y Araujo. Famosos – e detestados – por sua arrogância, os argentinos começam a rever a alta conta que tinham de si mesmos.
Favelas – “O que se produziu foi uma ruptura da imagem”, define Beatriz Sarlo, professora de Filosofia da Universidade de Buenos Aires, sugerindo que a decadência vem de muito antes e foi apenas agravada pela recessão. Para a filósofa, essa identidade era formada pelo triângulo: todo argentino é completamente alfabetizado, cidadão pleno e empregado.
A primeira condição lhe causava “orgulho diante dos povos da América Latina escolarizados tardiamente”; a segunda o tornava “membro de uma sociedade mais igualitária que a chilena e a brasileira”; e o emprego seguro lhe proporcionava “a temporalidade indispensável à identidade”. A professora acha que essas três condições começaram a desaparecer há cerca de 25 anos, num declínio iniciado mais ou menos na mesma época que o regime militar (1975-84).
O conceito de pobre na Argentina mudou. Atilio Boron, secretário-executivo do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais (Clacso), recorda que, quando ia para a escola pública, nos anos 50, passava por uma construção em que os pedreiros estavam fazendo churrasco – com carne de primeira. Garoto guloso de classe média, Boron ganhava dos pedreiros um sanduíche de carne e seguia para a escola.
Nas “villas miseria”, como se chamam as favelas na Argentina, comer não estava em questão, como hoje está. Durante a década de governo de Menem, a classe média baixa desceu para a camada pobre e a média alta subiu para a camada mais rica. Em 1990, a concentração de renda argentina medida pelo índice Gini, em ordem crescente de zero a dez, era de 0,4243. Em 1999, subira para 0,4593. A distância média da distribuição de renda entre a camada mais pobre e a mais rica aumentou 57%.
A classe média estava empregada maciçamente nas estatais, quase inteiramente privatizadas, e no serviço público, cujos salários foram congelados. A abertura comercial dizimou as pequenas e médias empresas, fornecedoras da indústria nacional que, depois de décadas de proteção, não conseguiu fazer frente ao chamado choque de competitividade.









