Na ausência de concepção estratégica e de política militar, as Forças Armadas tentam adivinhar o que o País quer, ao realizar os respectivos planejamentos
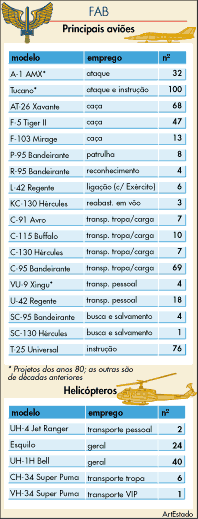 Boa parte dos dilemas e angústias dos militares decorre de uma indefinição fundamental: para que servem as Forças Armadas do Brasil? Mesmo que a resposta seja a mais profissional possível, ou seja, a de que servem para a guerra, virá fatalmente uma segunda incerteza: que guerra? A ameaça é difusa. Então, para que se preparam as Forças Armadas?
Boa parte dos dilemas e angústias dos militares decorre de uma indefinição fundamental: para que servem as Forças Armadas do Brasil? Mesmo que a resposta seja a mais profissional possível, ou seja, a de que servem para a guerra, virá fatalmente uma segunda incerteza: que guerra? A ameaça é difusa. Então, para que se preparam as Forças Armadas?
Militares da ativa, incluindo ministros, chegam a lamentar, em tom mais ou menos jocoso, o fato de o Brasil não enfrentar ameaças bem definidas e não ter tido conflitos recentes. A definição da ameaça propiciaria base clara para a discussão sobre a estruturação do orçamento para a defesa, o dimensionamento do efetivo e sua distribuição pelo território nacional, o equipamento das Forças Armadas e assim por diante.
A Política de Defesa Nacional (PDN), de 1996, é o texto no qual o governo brasileiro pretende ter oferecido uma base para o planejamento do preparo militar. Esse texto, no entanto, tem sido considerado insuficiente pela maioria dos especialistas.
O almirante da reserva Mário César Flores, ministro da Marinha no governo Collor, é impiedoso com a PDN: “Os conceitos são tão elásticos que não definem nada”, “as Forças Singulares podem fazer o que quiserem”, “vale tudo”, “é como uma carta de navegação só com as margens do rio, sem bancos de areia, pedras ou faróis”, enfim, “um somatório de consensos”.
O professor Thomaz Guedes da Costa, da UnB, que defendeu, na Universidade Columbia, Nova York, tese de doutorado intitulada A Formação da Política de Defesa no Brasil, está de acordo. “Pode ser que a ambigüidade tenha valor por não ofender nossos interlocutores”, diz o professor, referindo-se aos vizinhos do Brasil, que poderiam melindrar-se ao serem apontados como potenciais inimigos. “Mas democracia exige definição: os cidadãos dão dinheiro e sangue e querem saber como isso vai ser usado.”
O professor Eliézer Rizzo de Oliveira, diretor do Núcleo de Estudos Estratégicos da Unicamp, discorda. Oliveira acha que o texto de nove páginas cumpre seu papel de apontar os princípios gerais da política de defesa nacional, fincada numa “postura estratégica dissuasória de caráter defensivo”. Segundo o estudioso, “temos de nos preparar para perigos não-iminentes”.
“A sociedade precisa dizer o que quer de nós”, salienta, de sua parte, um coronel da FAB. “Ela não disse ainda, então vamos procurando atender ao que achamos necessário”, completa, referindo-se às atividades subsidiárias, como apoio às populações desassistidas.
Um general ocupante de alto cargo admite que o Exército se ressente da falta de definições. “Não temos uma concepção estratégica e uma política militar, então supomos o que seja o desejo do governo, da sociedade, e criamos a nossa concepção e a nossa política”, diz o general, referindo-se ao Sistema de Planejamento do Exército (Siplex), que reúne, desde os anos 80, documentos sobre doutrina, concepções político-estratégicas, logística e planejamento operacional, para garantir a unidade de pensamento da Força.
O Exército encara duas estratégias como prioritárias: a da dissuasão e a da presença. Como a ameaça é indefinida, a força de dissuasão busca o máximo de flexibilidade. Tem de ser também totalmente profissional, para estar preparada para os mais diversos empregos e condições, que vão desde a ameaça interna à externa, passando pelas missões internacionais de manutenção da paz.
As unidades de ação rápida que compõem essa força são a Brigada de Pára-Quedistas, o Batalhão de Forças Especiais, a 9ª Brigada-Escola e a Brigada Aeromóvel do Vale do Paraíba. Essa última foi usada no ano passado em Parauapebas, no sul do Pará, onde o Exército se mobilizou para evitar confrontos entre sem-terra e fazendeiros. “Foi um teste para a doutrina”, comenta um general.
As forças de ação rápida somadas às de pronto emprego representam metade do efetivo do Exército. A outra metade é formada pelas tropas que oferecem apoio, mas também por unidades operacionais que não estão na condição de pronto emprego e ação rápida. Especialistas civis – e alguns militares da reserva – criticam a manutenção dessas unidades operacionais, chamadas de “primas pobres”. Se não estão prontas para o emprego, para que mantê-las?
A justificativa do Exército está na segunda estratégia: a presença. Com a distensão no sul, consolidada no Mercosul, as ameaças se deslocaram para o norte, retratadas na vulnerabilidade da Amazônia e na instabilidade de países fronteiriços, como a Colômbia. Aqui, o Exército é acusado de lentidão na transferência de forças do sul para o norte.
O efetivo do Comando Militar da Amazônia é hoje de cerca de 20 mil homens – ou 10% do efetivo total, para uma área que representa metade do território nacional. Nesta década, foram transferidas duas brigadas de infantaria (cada uma com cerca de 2.400 homens) do sul para a Amazônia. A de Petrópolis (RJ) foi para Boa Vista (RR), em 1991, e a de Santo Ângelo (RS), para Tefé (AM), em 1993. Na área, já havia outras duas: uma em Porto Velho (RO) e outra em Tabatinga (AM).
A cúpula do Exército afirma que, no momento, não é necessário mais que isso. “Mesmo porque temos condições de mandar brigadas para lá a qualquer instante, desde que nos dêem transporte aéreo”, diz um general. A penúria da FAB tem restringido a capacidade de transportar as tropas do Exército. Preocupado, o Exército já chegou a fretar aviões civis em exercícios, para testar esse recurso.
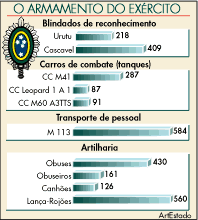
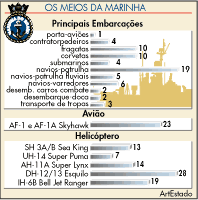
O objetivo do Exército é passar da ênfase dada antes à quantidade de tropas para a qualidade do preparo e do equipamento. “Nós precisamos agora servir-nos mais de tecnologia, sensores, interceptadores, armamentos mais modernos, visores noturnos, que dêem uma maior capacidade a essa tropa”, diz o general. “Ela está muito bem adestrada, 100% profissional, mas ficará mais capacitada se tiver essa agregação de tecnologia.”
Ao contrário das duas outras Forças, o Exército optou por não concentrar seu orçamento em grandes projetos, mas distribuí-lo numa série de iniciativas de modernização e de manutenção. A FAB protagoniza o Sistema de Vigilância da Amazônia (Sivam), em conjunto com a Secretaria de Assuntos Estratégicos e a Agência Espacial Brasileira, e em estreita cooperação com o Exército. Além disso, a FAB conduz um ambicioso plano de reequipamento e modernização de suas aeronaves, a grande maioria adquirida nos anos 70. Até o ano do 2015, a FAB planeja comprar os restantes 24 do lote de 56 aviões de ataque A-1 AMX; fabricar aviões de ataque AL-X; modernizar os caças F-5; substituir os Mirages F-103 e as aeronaves de transporte; adquirir aeronaves de patrulha anti-submarino, etc.
A Marinha desenvolve o submarino a propulsão nuclear e está remodelando o porta-aviões Minas Gerais, para embarcar 23 aviões A-4 – eles também remodelados – comprados do Kuwait. De todos os projetos, o Minas Gerais é o maior alvo de críticas. O almirante Flores diz que porta-aviões é para projeção de poder e estabelecimento do domínio do mar, conceitos que só podem ser postos em prática por um país com os meios dos Estados Unidos, não pelo Brasil.
O almirante Mauro César Pereira, ministro até dezembro, garantiu ao Estado que o Minas Gerais será valioso no trabalho de escolta. Já para Flores escolta passou a ser problema secundário. “A prioridade deveria ser uma Guarda Costeira eficientíssima e potencializar a Amazônia com comando combinado, observando o que a Marinha pode fazer para melhorar a capacidade do Exército, além de capacidade de dissuasão por submarinos”, diz Flores.
A aquisição dos aviões pela Marinha é vista, na FAB, como um signo do desprestígio da Força. Por determinação do marechal Castelo Branco, aviões eram exclusividade da FAB, cabendo à Marinha apenas helicópteros. “A verdade é que não tivemos competência para manter nossa aviação embarcada”, lamenta um oficial aviador. Na Aeronáutica, já há uma tendência a resignar-se à previsão de que o Exército, desassistido pela FAB no apoio aéreo a suas tropas, também terá a sua aviação. Um general de alto cargo diz que não: “Já temos problemas demais.”
A expectativa dos especialistas – e, em grande parte, o receio dos militares da ativa – é que todas essas decisões passarão a ser tomadas por um ministro da Defesa, com menos consideração pelos anseios corporativos e mais compromisso com uma visão de conjunto.









