O planejamento estratégico falhou – alguns dizem que inexistiu – ao priorizar a venda das distribuidoras sem garantir as condições necessárias para a expansão da geração
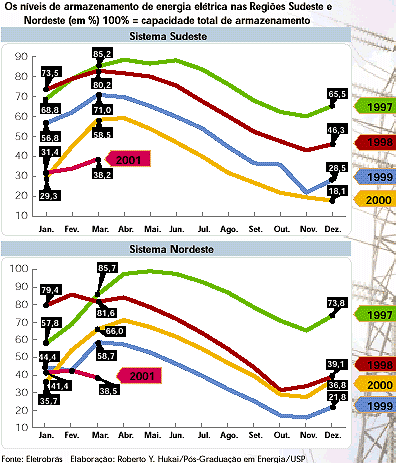
O brasileiro comum, aquele que paga em dia suas contas de eletricidade, que não esquece o ferro ligado e que aprendeu na escola que o potencial energético quase ilimitado era um dos maiores trunfos deste país, está se fazendo a seguinte pergunta: o que foi que saiu errado?
É claro que a resposta varia dependendo de que lado se está do setor. Antes de escolher um lado, ou de julgar se as decisões foram acertadas ou não, é possível responder o seguinte:
Dos anos 80 até a segunda metade dos anos 90, os governos sucessivos mantiveram as tarifas artificialmente baixas para conter a inflação. O resultado foi inadimplência entre distribuidoras e geradoras, administrável pelo fato de serem ambas estatais.
Premido pela necessidade de conter o endividamento – contraído, em parte, justamente com as hidrelétricas de décadas anteriores -, o governo deixou de investir em geração. Quando chegou a hora de privatizar, priorizou a venda das distribuidoras, que representavam dinheiro em caixa para abater o déficit. Com o mesmo objetivo, represou os superávits recentes de geradoras estatais.
A geração continuou sem investimentos no nível requerido pelo aumento da demanda, decorrente das conquistas do próprio governo: estabilidade, aumento do poder aquisitivo, acesso a bens duráveis, aumento da produção industrial.
A energia armazenada como porcentagem da capacidade de armazenamento caiu ano a ano. Mas, sempre que os operadores do setor se preparavam para soar o alarme, chuvas generosas enchiam os reservatórios e tornavam o problema supostamente menos premente. Até que, no meio de uma estação de chuvas – e de aquecimento econômico -, simplesmente parou de chover.
É um círculo diabólico: a ampliação da geração hidrelétrica criou formidável dívida externa e alimentou a inflação, que levou o governo a deprimir as tarifas e os investimentos em geração, numa política que permitiu o saneamento das contas públicas, que serviu de base para o crescimento sustentável, que agora esbarra na escassez de energia.
Até aqui, o mercado, os especialistas e o governo estão mais ou menos de acordo. É na resposta à próxima pergunta que eles assumem campos opostos: poderia ter sido diferente?
“A política de tarifas depreciadas causou uma tremenda transferência do dinheiro público para o setor privado e do setor residencial para o comercial” começa Roberto Hukai, professor de Pós-Graduação em Energia na USP. Com um efeito colateral: “o aumento terrível da ineficiência”. A energia barata desestimulou investimentos em eletrodomésticos e equipamentos mais econômicos.
No dia 20 de setembro de 1999, o Estado publicou os resultados de um estudo de Hukai que alertava para os riscos de desabastecimento. Só as chuvas ou o baixo crescimento salvariam o País do racionamento, dizia o professor. As chuvas entraram em cena. Mas, afirma o especialista, assim como teve quatro anos de chuvas extraordinárias, o Brasil pode perfeitamente ter quatro sem elas – e ficar no zero.
“O Ministério das Minas e Energia cansou de ser avisado do desastre desde 1997”, lembra Hukai, acrescentando que os interesses eleitorais falaram mais alto. “De lá para cá, a cada ano as represas continuam a atingir menor volume máximo, e isso com demanda crescente.” O Brasil ainda tem potencial tremendo de crescimento: o consumo médio por habitante é de 1.900 kilowatts/hora por ano, quando nos EUA ele é de 13.500.
Para Hukai, a filosofia básica do governo está correta: deixar a operação para o setor privado e criar uma agência para regular e arbitrar pendências. “É uma concepção moderna, que resultou em aumento extraordinário de investimentos em geração”, diz o especialista. Eles estão chegando, embora não no ritmo necessário, até porque 80% da geração permanece nas mãos das estatais. “Se hoje a situação é ruim, seria bem pior se não tivesse privatizado.”
“Nunca se investiu tanto em energia como de 1995 para cá”, concorda José Augusto Marques, presidente da Associação Brasileira da Infra-Estrutura e Indústrias de Base (Abdib), que reúne as empresas do setor. “E 70% dos investimentos em geração e transmissão vieram do capital privado.”
Uma reestatização, acha Hukai, seria “o caminho certo para o precipício”. Ao contrário: “É preciso preservar e liberar as forças do mercado, que é mais sábio que o governo.” Isso quer dizer, entre outras coisas, que as tarifas terão de subir. “Mas depois vão cair.” As tarifas residenciais, na faixa dos US$ 100, já estão mais altas do que em muitas cidades americanas, onde oscilam entre US$ 50 e US$ 60, e de Paris, onde estão em US$ 70. Já a tarifa média brasileira, de US$ 55 (dos quais, 40% são tributos, queixa-se o mercado), fica abaixo, porque a indústria paga menos. Quer dizer, também, que as galinhas dos ovos de ouro terão de ser vendidas: “Sinto dor no coração de privatizar as grandes hidrelétricas, mas, se não privatizar, é pior.”
O consultor de eletricidade Paulo Feldman, sócio da Ernst & Young, olha na direção contrária: ele acha que as empresas deveriam ter sido saneadas, não privatizadas. “A França e Portugal fizeram privatizações, mas não no setor elétrico e, nos EUA, metade da energia elétrica é gerada e distribuída por estatais.” No Brasil, a privatização atingiu 80% da distribuição e 20% da geração.
“Se pegasse os grupos privados e juntasse com o setor público, o dinheiro usado na compra iria para o investimento”, diz o especialista Oscar Pimentel, que presta consultoria para grandes investidores estrangeiros. “Ao cometer o erro de colocar à venda, o governo desestimulou os investimentos.”
Pimentel elogia o modelo usado pela Cemig, que fez licitação e convidou a Southern Electric da Califórnia e a AES para serem suas parceiras estratégicas. “Elas entraram para modernizar, enxugar a empresa e aumentar a eficiência”, lembra o consultor. No primeiro ano, o lucro foi de R$ 400 milhões. “O governo não pode sair completamente do setor”, opina Pimentel. “A iniciativa privada deve entrar para acabar com a influência política, para modernizar e enxugar.”
A privatização, acrescenta Feldman, veio acompanhada do fim do planejamento. “Se tinha uma coisa que funcionava muito bem, porque tinha planejamento central, era o Grupo Coordenador da Expansão do Sistema, da Eletrobrás.” O governo, diz Feldman, veio imbuído da seguinte filosofia: abaixo o planejamento, o mercado vai resolver tudo.
O consultor Oscar Pimentel ilustra a constatação de Feldman com o raciocínio seguinte. As grandes usinas brasileiras não privatizadas – Furnas, Cesp, Chesf, Eletronorte, Cemig, Copel e CEEE – têm preço controlado e baixo custo de produção, fixado em função do investimento feito e do tempo transcorrido.
A partir de 2003, o preço de venda será livremente negociado. Assim, uma geradora que hoje vende o megawatt/hora por US$ 25 poderá vender a US$ 35 para quem quiser comprar.
“Você acha que ele vai querer investir (em geração) para ter mais oferta e vender mais barato?”, pergunta Pimentel. “Por outro lado, você acha que algum grupo vai querer entrar com usina nova e custo mais alto, para competir com esse pessoal que está aqui?” Conclusão: quem já está no mercado não tem interesse em investir. E quem não está, não quer entrar.









